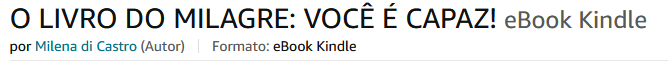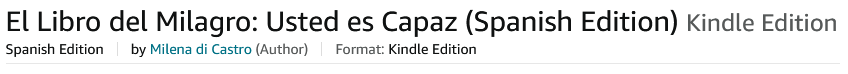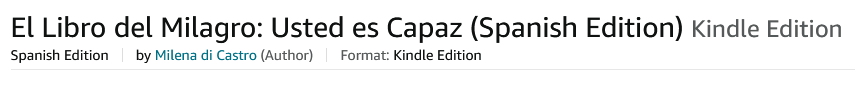No dia 11 de março de 2020, o biólogo etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), fez um discurso que entraria para a história.
Num momento em que haviam sido registrados 118 mil casos e 4,2 mil mortes por covid-19 em 114 países, ele anunciou que estávamos, de fato, em uma pandemia.
“Essa é a primeira pandemia causada por um coronavírus. […] Nós estamos soando o alarme em alto e bom som”, declarou.
Três anos, 676,5 milhões de casos e 6,8 milhões de mortes depois, o mundo se encontra num momento completamente distinto da crise sanitária.
Com o desenvolvimento de vacinas, testes e remédios em tempo recorde, o coronavírus deixou de representar uma ameaça mortal para a maioria das pessoas — apesar de ainda ser um problema grave e preocupante para os grupos mais vulneráveis, como idosos e indivíduos com o sistema imunológico comprometido.
E o próprio Brasil é um exemplo dessa mudança de cenário: a taxa de mortalidade, que chegou a 201 por 100 mil habitantes em 2021, caiu para 36 no ano passado e, neste primeiro trimestre de 2023, encontra-se em três, segundo o painel do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass).
Nesse período, a letalidade caiu de 2,9% para 0,7%.
Mas como chegamos até aqui? E o que esperar da covid-19 para os próximos anos? A BBC News Brasil ouviu pesquisadores para entender as perspectivas futuras desta doença e o que precisa ser feito para diminuir ainda mais o impacto dela na sociedade.
Casos, hospitalizações e mortes: alívio nos números, mas acompanhamento é primordial
Até o momento, 2021 foi o pior ano da pandemia no Brasil. No auge, o país chegou a registrar um total de 21 mil mortes por covid em uma única semana.
Desde então, as estatísticas nunca mais chegaram a patamares tão elevados — apesar do crescimento em internações e mortes registrado no início de 2022, relacionado ao espalhamento da variante ômicron.
Se os dados continuarem na tendência atual, o país deve fechar o ano de 2023 com menos da metade das mortes que foram notificadas em 2022 — que, por sua vez, já havia registrado 84% menos óbitos em comparação com 2021.
O alívio no cenário epidemiológico, inclusive, levou a mudanças importantes na forma como as estatísticas são apresentadas.
Recentemente, o Ministério da Saúde e o próprio Conass deixaram de publicar boletins diários sobre os números da pandemia e passaram a divulgar relatórios semanais.
O estatístico Leonardo Bastos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), vê a mudança com bons olhos.
“Os boletins diários são por vezes um tanto ruidosos, já que eles podem trazer dados incompletos de acordo com o dia e a disponibilidade de profissionais para atualizar os sistemas”, avalia.
“Quando os dados estão consolidados por semana, fica mais fácil fazer as análises e entender as tendências de casos, hospitalizações e mortes”, complementa.
Mesmo diante desse maior espaçamento das estatísticas, o especialista entende que é vital manter ativa a vigilância sobre o coronavírus — assim como ocorre para vários outros patógenos, como os causadores de gripe ou dengue.
“Nossos sistemas são bons para detectar os casos mais graves de infecções respiratórias, que exigem hospitalizações. Mas precisamos desenvolver recursos capazes de flagrar os quadros mais leves, que sinalizam o início de uma potencial nova onda”, diz Bastos, que também integra o Observatório Covid-19 BR.
O pesquisador ainda destaca uma última tendência que deve se confirmar nos próximos anos: a sazonalidade do coronavírus, ou os períodos do ano em que o número de infecções e óbitos tende a subir.
“Os três primeiros anos da pandemia foram um tanto conturbados. Mas com a situação relativamente mais controlada, será possível observar esse comportamento sazonal do patógeno”, acredita Bastos.
“Assim como acontece com outros vírus respiratórios, a tendência é que os casos de covid aumentem nos períodos mais frios do ano, conforme nos aproximamos do inverno. Porém, isso é algo que ainda precisa ser confirmado”, completa.
Vacinação: doses atualizadas para alguns, reforço urgente para os demais
Entre os especialistas, não há dúvidas de que o momento mais favorável da pandemia que vivemos agora está relacionado a dois fatores principais: a vacinação e o grande número de infectados pelo coronavírus.
Esses dois eventos permitiram criar um bom nível de imunidade — com isso, mesmo que o vírus consiga invadir o organismo, as células de defesa são capazes de conter o problema antes que ele se transforme em algo mais sério na maioria das vezes.
Segundo os dados compilados pelo portal CoronavirusBra1, mais de 183 milhões de brasileiros (ou 86% da população) tomaram pelo menos uma dose do imunizante que protege contra o coronavírus.
O problema está na continuidade da campanha. Apenas 175 milhões (82% do total) completaram o esquema inicial de duas doses.
Para piorar, só 125 milhões (59%) voltaram aos postos de saúde para tomar o reforço (ou a terceira dose), tão necessário para diminuir o risco de pegar a variante ômicron.
“É natural que, com o passar do tempo, a proteção conferida pela vacina diminua. Por isso, é essencial estar com o esquema de doses atualizado para garantir uma boa imunidade”, explica a pediatra Isabella Ballalai, da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).
A médica conta que as doses de reforço funcionam como uma espécie de “lembrete”, para fazer com que o sistema imunológico siga com uma boa capacidade de combater o coronavirus.
Diante desse cenário de baixas coberturas, o Ministério da Saúde lançou recentemente uma nova campanha para melhorar as estatísticas da vacinação contra a covid.
E há dois objetivos principais nesse esforço. Primeiro, garantir que toda a população atualize a caderneta de vacinação e tome a segunda, a terceira ou a quarta dose atrasadas. Nesses casos, são aplicadas as vacinas monovalentes, usadas desde o início da campanha.
A segunda parte da iniciativa envolve os imunizantes bivalentes, que trazem uma proteção ampliada contra as variantes mais recentes do coronavírus, como a ômicron.
Por ora, essas doses atualizadas estão disponíveis apenas para grupos mais vulneráveis, como idosos, indivíduos que moram em instituições de longa permanência, pacientes com o sistema imunológico comprometido, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, gestantes, puérperas (mulheres que tiveram um filho nos últimos 45 dias), trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.
“A vacina bivalente é uma conquista muito grande e mostra que somos capazes de atualizar a formulação dos imunizantes de acordo com o surgimento das novas variantes”, considera Ballalai.
Ainda que a chegada das vacinas bivalentes sinalize o primeiro passo sobre o futuro das campanhas de imunização contra a covid, a estratégia para os próximos anos ainda não está clara.
Não se sabe, por exemplo, se todos — ou alguns grupos em específico — precisarão tomar um reforço a cada ano, ou se a proteção conferida pelas doses disponíveis hoje será suficiente por um tempo extra.
Só a observação da realidade e as pesquisas que estão em andamento poderão determinar a periodicidade das campanhas — e quem será contemplado nelas.
“A tendência é que tenhamos uma vacinação anual, ou eventualmente até duas vezes ao ano, para alguns públicos. Mas isso é algo que ainda precisa ser definido”, completa Ballalai.
Prevenção: a transição do esforço coletivo para a iniciativa individual
Outro fenômeno que marcou os meses mais recentes da pandemia foi a mudança nas políticas públicas que tentam conter as cadeias de transmissão do coronavírus.
Num período em que as vacinas ou os remédios não estavam disponíveis e a taxa de mortalidade permanecia em alta, a única alternativa de governos e instituições de saúde era determinar o lockdown e pedir que as pessoas permanecessem em casa.
As máscaras, obrigatórias a todos em qualquer local público, eram uma maneira de se proteger — ou diminuir o risco de espalhamento do patógeno pelos indivíduos que estavam infectados.
Com o passar do tempo, a realidade se modificou. “Foi a partir daí que as recomendações de prevenção deixaram de ser coletivas para ganharem um aspecto mais individualizado”, comenta a infectologista Sylvia Lemos Hinrichsen, professora do Departamento de Medicina Tropical da Universidade Federal de Pernambuco.
Isso, claro, tem a ver com o tópico anterior: a criação de um bom nível de imunidade por meio da vacinação (e do número de indivíduos infectados) permitiu com que as exigências da lei fossem substituídas por sugestões e orientações de saúde pública.
Atualmente, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos preconiza que a prevenção da covid-19 deva estar de acordo com o nível de transmissão do coronavírus em cada região e o risco individual de desenvolver as formas mais graves da doença.
O órgão até disponibiliza gratuitamente um arquivo em inglês e espanhol para o “planejamento pessoal da covid-19”, que cada um pode preencher com informações de acordo com as necessidades próprias.
Nesse mesmo manual, o primeiro passo das estratégias preventivas é “conversar com o profissional de saúde para saber se você tem um alto risco de ficar gravemente doente”.
A partir dessa informação, é possível desenvolver as ações necessárias para cada caso. Um indivíduo com alto risco pode, por exemplo, sempre usar máscaras em locais fechados e cheios de gente, ou suspeitar dos sintomas assim que aparecerem. A partir daí, ele pode buscar um serviço de saúde, fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento — o que diminui o risco de hospitalização e morte.
Além desses cuidados individualizados, as entidades nacionais e internacionais de saúde seguem recomendando outras medidas básicas, como lavar as mãos com regularidade, ventilar bem os ambientes fechados e preferir reuniões em lugares abertos.
Esses cuidados, aliás, não protegem apenas contra o causador da covid-19, mas também são efetivas contra vários outros patógenos que provocam infecções, como o influenza e o vírus sincicial respiratório.
“Além de manter as regras básicas de higiene e etiqueta respiratória, é importante que as pessoas continuem a observar os sintomas típicos da doença [febre, coriza, tosse, espirros, dor no corpo…] e busquem o diagnóstico”, acrescenta Hinrichsen.
“Se o exame confirmar a covid, vale evitar o contato com outros indivíduos e fazer o isolamento para não transmitir os vírus adiante”, complementa.
Variantes: na fronteira entre a calmaria e a vigilância
Nos últimos três anos, o coronavírus passou por uma série de mudanças em sua estrutura.
Essas mutações genéticas, que aumentaram o potencial do patógeno de se transmitir ou driblar a imunidade, levaram ao surgimento das variantes de preocupação (VOC, na sigla em inglês).
Até o momento, cinco linhagens do agente infeccioso foram classificadas como VOC: a alfa, a beta, a gama, a delta e a ômicron.
Cada uma delas provocou uma nova onda de casos, hospitalizações e mortes em alguns países ou no mundo inteiro.
A gama, por exemplo, surgiu no Estado do Amazonas e foi co-responsável por um dos piores momentos da pandemia registrados até o momento no Brasil e na América do Sul (embora não tenha sido tão impactante em outras partes do globo).
A última versão do vírus a ser classificada como VOC foi a ômicron, em novembro de 2021.
De lá para cá, nenhuma outra linhagem causou uma preocupação tão grande na comunidade científica.
Mas isso não quer dizer que a ômicron tenha permanecido intocada nesses últimos tempos.
“Quase todas as variantes que circulam desde o final de 2021 são descendentes da linhagem B.1.1.529, a ômicron ancestral”, explica o virologista Anderson Brito, pesquisador do Instituto Todos Pela Saúde.
“No Brasil, tivemos surtos causados pela ômicron BA.1 no início de 2022. Em maio do ano passado, vimos uma nova subida das infecções causada por BA.2, BA.4 e BA.5”, exemplifica.
“Em outubro, passamos por surtos da BQ.1, que descende da BA.5. E agora enfrentamos a XBB, uma variante derivada da BA.2”, completa.
Essa sopa de letras e números reforça um aspecto importante: o estudo e a vigilância das mutações que aparecem no coronavírus é essencial para detectar linhagens perigosas antes que elas se espalhem demais.
“Investimentos em pessoal, treinamento, equipamentos e principalmente na coordenação das ações são essenciais para que o Brasil seja capaz de realizar uma vigilância genômica ampla, representativa e em tempo oportuno, não só das variantes do coronavírus, como também de vários patógenos, como os vírus de dengue, zika e outros que geram grandes impactos à saúde pública, mas são negligenciados”, diz Brito.
Mas será que existe o risco de novas VOCs aparecerem daqui em diante?
“Quanto mais o vírus infecta seus hospedeiros, mais chances ele tem de adquirir novas mutações vantajosas para a disseminação dele”, responde o virologista.
“Em populações com imunidade, seja por vacinas ou infecções prévias, o coronavírus tem enfrentado barreiras para se disseminar. Com isso, devido ao seu poder de adaptação via mutações, ele só tem conseguido se manter em circulação sob a forma de variantes com maior transmissibilidade e/ou maior capacidade de evadir parte de nossas defesas imune”, continua.
E a melhor ferramenta para evitar um cenário pessimista, em que novas VOCs provocam ondas de casos e mortes por covid, está, mais uma vez, na vacinação.
“As vacinas representam uma vitória contra o coronavírus, e dificilmente viveremos cenários tristes como o de abril e maio de 2021, quando a variante gama ceifou milhares de vidas todos os dias no Brasil”, conclui o pesquisador.